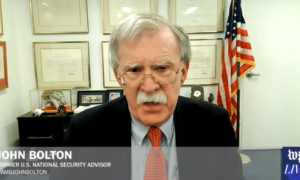Um dos primeiros textos a fazer barulho alegando que o nazismo seria de esquerda foi assinado, ainda no início da década, pela mesma figura que anos depois faria sucesso no Brasil defendendo que a Terra seria plana. O conteúdo era pragmático: numa tabela, um punhado de características do nazifascismo; nas colunas seguintes, um “X” assinalava se o traço seria esquerdista ou de direita. E essa “venceu” a disputa com razoável facilidade.
Quando o tema finalmente extrapolou as bolhas reacionárias, a esquerda reagiu reclamando que o nazismo era e sempre foi de direita, que isso nem era discutido na academia. Mas o problema talvez fosse justamente esse.
Não há na educação brasileira campo mais objetivo do que a matemática. Ainda assim, os professores se esforçam para demonstrar como os autores chegaram às mais variadas fórmulas. É uma maneira de convencer o aluno de que há um motivo para o soma do quadrado dos catetos igualar-se ao quadrado da hipotenusa.
Nas humanidades, onde a subjetividade reina, não deveria ser diferente. E cada aluno deveria concluir os estudos não apenas repetindo que o nazismo seria de direita, mas sabendo explicar como chegou à conclusão. Contudo, como tanto repetiu a esquerda recentemente, o debate nem sequer existia.
Mais do que isso, e ainda sem conseguir anotar a placa do que a atropelou na última eleição, militantes esquerdistas têm repetido que não se deve discutir com lunáticos, ou novos “bolsonaros” nascerão. Não percebem, entretanto, que Bolsonaro nasceu justamente de um contexto em que lunáticos debatiam solitariamente. E, sem concorrência, plantavam o que queriam na mente dos leitores menos informados.
É saudável para a nação que os debates sejam travados por vozes distintas e com múltiplas interpretações do mundo. Só assim a opinião pública conseguirá tomar boas decisões. Se a estratégia da esquerda é deliberadamente se ausentar da disputa, irá perder por W.O. – de novo.